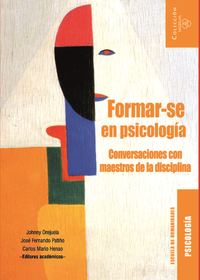Kitabı oku: «Formar-se en Psicología», sayfa 5
S. M.: Sí, yo lo sé, pero no es una cuestión de psicoterapia: es otra cosa. Hay que tener la capacidad de llevar al estudiante a comprender que lo que está haciendo puede producir un bien o un mal en los otros. Lo mismo sucede cuando yo les grito a mis nietos que están haciendo algo malo; yo tengo que decir: “Para, para de hacer esto, no es bueno, es malo”, y les explico por qué. Tengo que hablar con ellos para que comprendan lo que están haciendo y por qué es indebido. Entonces, a pesar de que he gritado, no necesariamente hice una agresión.
J. O.: Ni una intromisión.
S. M.: Yo tengo que mostrarles que lo que ellos hicieron es algo que no es un bien para otro o para la naturaleza. Esa es una implicación en el orden ético muy importante.
J. O.: Ahora, por otro lado, ¿qué cree usted que implica, para un profesor, formar en psicología? ¿Quién es un buen profesor de psicología? ¿Aquel que hace qué?
S. M.: La primera característica –y me voy salir del campo de la ciencia– es tener pasión por la formación, por la educación. Hoy es muy difícil trabajar en este campo si tú no tienes pasión por formar. Esto no es una cuestión de ciencia, es una cuestión existencial. Es como el que quiere tener hijos, pero no tiene pasión por tenerlos, sino que está más interesado en jugar un papel social. Yo creo que quien quiere ser profesor de psicología debe estar más determinado por la pasión de formar que por cumplir un papel social vacío de compromiso personal con ese hacer.
J. O.: O como una instrumentalización de un trabajo… Muchos profesores de psicología hacen el trabajo porque encuentran una posibilidad para trabajar, no porque les apasione.
S. M.: Sí, eso que dices es cierto. La segunda característica que debe tener un buen profesor es ser pluralista: que tenga una visión pluralista y que estimule a los estudiantes a trabajar en desarrollar una visión pluralista.
J. O.: A propósito de eso: ¿qué lugar le da usted, por ejemplo, a una visión interdisciplinaria en la formación en psicología?
S. M.: Yo creo que eso, hoy, es fundamental. No pienso en otra posibilidad porque hoy necesitamos los unos de los otros. Como dice el poeta Manuel de Barros: somos incompletos. Por ejemplo, una de las críticas que tengo a la psicología clínica es que no se puede trabajar un problema personal desligado de una coyuntura sociológica, antropológica, histórica o política; no es algo solo individual. Estos problemas no se pueden pensar solo individualmente, sin el contexto. Se debe recoger la multidisciplinariedad. Curiosamente, la profesión que más está caminando hoy hacia la interdisciplinariedad es la medicina, que siempre fue hiperindividualista. Pero sobre algunas enfermedades, como el cáncer, se está dando a entender que no se requiere solo de un tratamiento como la quimioterapia o la radioterapia, sino también de un trabajo importante con el sistema social.
J. O.: Profesor, ¿usted cree que en la formación de psicólogos hay un currículo oculto?
S. M.: Claro, cada escuela, cada grupo tiene el suyo. Sí existe un currículo que no es el formal, por supuesto.
J. O.: ¿Qué tanta fuerza tiene ese currículo en la formación real?
S. M.: Depende de las circunstancias. Hay escuelas que son muy ideologizadas y en ellas ese currículo oculto tiene una fuerza impresionante; yo encuentro alumnos que, hasta hoy, como recientemente ocurrió, venían a hacerme una entrevista a mí, que soy del área de trabajo, y treinta por ciento de las preguntas no eran sobre la relación hombre-trabajo y las implicaciones, sino sobre capitalismo. Entonces para mí quedó claro que los textos que ellos leen, las discusiones que tienen, poseen sesgos muy serios.
J. O.: Sesgos ideológicos muy fuertes, sí señor. Profesor, para sintetizar un poco quisiera preguntarle: ¿cuáles serían las cosas que apalancarían una buena formación y cuáles serían entonces las que obstaculizarían la buena formación de un psicólogo?
S. M.: ¡Ay, son tantas, Johnny, que yo no estoy en condiciones para responder con precisión! En relación con lo fundamental sobre la formación y el papel del profesor: él está ahí para ayudar a transformar a un individuo (que hoy es un estudiante) en un profesional. Para llegar a esta transformación es necesario trabajar las competencias humanas, la reflexión, el diálogo con el mundo, con la realidad y con las demás disciplinas. Dos de las cosas que están disminuyendo hoy son el diálogo y un currículo que estimule y represente el pluralismo de la psicología. Por lo tanto, la formación en psicología no puede concentrarse, como lo hacen algunas escuelas, solo en psicoanálisis, en conductismo o en fenomenología. Para mí, algo absolutamente necesario es tener, por lo menos, dos espacios distintos para el estudio de la filosofía, para que el alumno pueda aprender a salir del conocimiento específico y logre tener una visión de la perspectiva ontológica, epistemológica y ética; una visión más amplia de lo humano. Lo que obstruye y dificulta la formación es la fragmentación. Fragmentar es que cada profesor venga y dicte tres clases de un tema y salga y venga otro y haga lo mismo. Por ejemplo, no me gustan algunas escuelas que tienen cuatro profesores dictando la misma materia: un profesor dicta un tema en cuatro clases, otro dicta otro tema en tres clases y así sucesivamente. Así no hay una integración de aquello que se trabaja. Jamás apruebo algo así. Tú puedes traer profesores distintos, que sean especialistas, pero es necesario que todos sepan de los temas de los otros y logren articularse entre sí; de lo contrario, considero que es muy peligroso este tipo de cosas.
J. O.: Una pregunta más, profesor Sigmar: ¿cuál cree usted que es el porvenir de la psicología? ¿Hacia dónde va la disciplina? ¿Usted qué percibe?
S. M.: Yo soy muy optimista. Yo creo que la psicología es una ciencia que está creciendo, está madurando y avanzando. De lo que yo estudié a los conceptos que hoy existen, ha habido un progreso notorio, muy visible, con muchos conceptos nuevos, y noto que la psicología acompaña la evolución del mundo. Creo que seguimos produciendo investigaciones y conceptos nuevos; el problema hoy es que hay mucha dispersión y que atrapa mucho la divulgación de esos conceptos. La psicología existe, no en los periódicos, pero sí en algunas redes; donde hay gente creativa, seria, buena. Esos grupos innovan la psicología y así la psicología es una ciencia que crece.
J. O.: ¿Qué le recomendaría usted a un estudiante que se quiere formar hoy en psicología? ¿Cuál sería su consejo para los nuevos estudiantes de nuestra ciencia y profesión?
S. M.: Tres cosas: reflexionar, reflexionar y reflexionar. Las tres. Yo pienso igual que los franceses. Ellos dicen que hay tres especias inevitables en la cocina para dar sazón: la primera es la mantequilla, la segunda es la mantequilla y la tercera es la mantequilla. Yo diría la misma cosa: tú puedes llegar por varios caminos a ser un psicólogo, pero si no tienes capacidad de reflexión, no llegarás nunca a ser uno realmente bueno.
J. O.: ¿Y qué le recomendaría a un profesor que va a formar psicólogos?
S. M.: La misma cosa: reflexionar sobre qué es ser psicólogo y qué tarea es esta de formar psicólogos, y sobre cómo lograr la transformación que tiene que realizar sobre sus alumnos.
J. O.: Bien, profesor quisiera agradecer este interesante espacio de conversación.
S. M.: ¡Ha sido con gusto! Gracias también por permitirme reflexionar sobre este tema.
A experiência em ato, pessoal e direta com quem nos forma, nos transforma decisivamente
Christian Dunker conversa com Carlos Mendes Rosa*Universidade de São Paulo, Universidade Federal do Tocantins, Brasil
Christian Dunker é Psicanalista, Professor Titular Livre Docente do Instituto de Psicologia da USP e Analista Membro de Escola (AME) do Fórum do Campo Lacaniano. Tem experiência na área clínica com ênfase em Psicanálise (Freud e Lacan), atuando principalmente nos seguintes temas: estrutura e epistemologia da prática clínica, teoria da constituição do sujeito, metapsicologia, filosofia da psicanálise e ciências da linguagem. Além disso, é um dos grandes divulgadores da psicanálise em nosso tempo, sempre se colocando de forma clara e precisa, seja nos debates públicos, seja em seu próprio canal no Youtube.
Sigmund Freud é, inegavelmente, uma das figuras mais marcantes dos últimos dois séculos. Sua influência se estende por várias áreas do conhecimento, desde as artes até a medicina. É na psicologia, porém, que seu legado se consolida como paradigma e campo epistemológico. Por essa razão, uma coleção de diá logos acerca da formação em Psicologia não poderia prescindir da experiência e do conhecimento de um renomado psicanalista. É com esse intuito que nos encontramos com Christian Dunker para uma conversa acerca dos vários temas relacionados ao formar-se psicólogo.
Carlos Mendes Rosa (C. M. R.): Christian, como e por que você escolheu a Psicologia e posteriormente a Psicanálise?
Christian Dunker (C. D.): A Psicologia veio para mim como uma espécie de solução de compromisso. Eu tinha um apreço pelas pessoas, pelo cuidado com elas, gostava de ouvir histórias. Ao mesmo tempo, eu tinha um interesse pela Filosofia, pela história das religiões, pelas narrativas, pelos mitos. Assim, a Psicologia tinha esse sentido de ser uma coisa ao mesmo tempo prática, orientada para as pessoas, e que continha a promessa de projeto de autoaperfeiçoamento.
Muitas vezes, nós ouvimos frases como “a pessoa presta o curso de Psicologia para resolver seus próprios problemas”, “ela devia procurar uma psicoterapia ou uma psicanálise e não fazer o curso de Psicologia”. Eu acho que essa crítica tem um sentido até a página três, porque no fundo, de fato o estudo da Psicologia, quando bem posto, faz parte de uma trajetória de formação de libido em um sentido mais clássico e de autoaperfeiçoamento, ou de perfectibilidade, se você for falar como Rousseau. Essa ideia de que o que você faz e estuda tem sempre que ver com você.
C. M. R.: E a Psicanálise…
C. D.: Então, a Psicanálise entrou na minha vida, acho que de uma forma feliz, ou pelo menos de um jeito que eu acho interessante, pois não foi de uma forma muito cognitiva, não foi uma escolha assim “qual é a teoria que do ponto de vista epistêmico me persuade mais?”. Mas, simplesmente, porque eu tive um despeito, estava sofrendo como um perro, e achava que alguém devia fazer alguma coisa. Assim, pedi uma indicação e me indicaram um profissional, mas eu nem sabia que era psicanalista e muito menos que era lacaniano. Eu vim descobrir isso durante o processo e depois que esses encontros se dão, eles provocam consequências, transcendências e ligações que são imprevisíveis.
Então, já na metade do curso, quando estava no terceiro ano, eu tive uma experiência inusitada de participar de um concurso de bolsas para uma associação de psicanalistas e passei. Daí para frente, então, minha vida se dividia da seguinte forma: de manhã, fazia Psicologia, à tarde estudava Psicanálise e à noite fazia Ciências Sociais. Uma coisa que acho muito interessante da formação do psicólogo é o fato de ela se combinar com alguma outra formação. No meu caso, não cheguei a concluir o curso, mas com alguma outra formação, seja no campo das artes, seja no campo da teoria social, da Filosofia, no campo das línguas, me parece ser muito desejável.
A Psicanálise foi entrando primeiro como uma experiência pessoal e depois, obviamente, o curso se traduz na tentativa de dar direcionamento a essa experiência junto às matérias, às disciplinas e aos professores. Muitos professores significativos foram decisivos no processo, no meu caso um pouco antes, mas também depois de formado, na continuação da formação psicanalítica. Isso é muito interessante, porque ela cria outra posição para você diante do curso; você sai daquela atitude “shopping center”, segundo a qual você olha vitrines e escolha o que gosta mais, e começa a se responsabilizar pelos livros que escolhe ler e pelos que não lê, pelos professores que você resolve seguir, pela continuidade dos problemas em que se coloca, eventualmente, em uma pesquisa formal ou informal. A Psicanálise muda tudo quando ela entra no curso de Psicologia, quando ela entra no sujeito.
C. M. R.: Você já começou a responder a uma segunda pergunta: você poderia falar um pouco sobre sua trajetória acadêmica e sua experiência docente? Acrescento, ainda, ter visto no seu Lattes que você fez doutorado em Psicologia Experimental. Como se deu isso?
C. D.: Então, essa é uma coisa interessante e pouco mensurada nos cursos de Psicologia que é admirável na Psicanálise: ela é mais ou menos próxima do nascimento da própria Psicologia, ela é formativa do campo das práticas em psicoterapia. Não existe nenhuma prática psicoterápica tão antiga quanto a Psicanálise. Outras se desenvolveram, se autonomizaram, se opuseram e há outros paradigmas, mas a força de você estar na antiguidade histórica, na formação do campo, é muito grande.
No caso do curso de Psicologia da USP, onde eu estudei, isso se reflete, por exemplo, em uma variedade de incidências da Psicanálise. Então, se lá você tem Psicanálise na Psicologia da Aprendizagem, na Psicologia do Desenvolvimento, na Psicologia Social, na Psicologia do Trabalho, na Psicologia Clínica, obviamente, e na Psicologia Experimental, é porque o curso de Psicologia na USP foi formado, basicamente, a partir de três grandes tradições: uma é a Psicanálise, outra é a tradição da análise experimental e do comportamento, e a outra é a tradição dos estudos em Teoria da Ciência, Epistemologia e História da Ciência, que está a cargo, historicamente, da Psicologia Experimental. Mas, bem antes que eu participasse desse departamento, nós tínhamos professores que se formaram na disciplina, vamos dizer assim, do rigor científico, ligados à Psicanálise na Psicologia Experimental. Por exemplo, o professor Luís Claudio Figueiredo; o professor Nelson Coelho; o professor Osmyr Gabbi Faria Júnior, um dos maiores leitores do projeto de Psicologia científica, que depois trabalhou na Unicamp; professor João Frayze Pereira… Ou seja, todos teóricos bastante consagrados dentro da Psicanálise e que vêm desse departamento.
No meu caso, havia outra interveniência que é a seguinte: eu comecei a fazer o mestrado quando eu estava no quinto ano da graduação, em função, justamente, de pesquisas nas quais eu trabalhava dentro da Psicologia Experimental no campo da etologia. Bom, quem trabalha com Lacan sabe que um momento chave da obra lacaniana, que é o “Estádio do Espelho”,1 foi pensado a partir dos estudos etológicos dos anos trinta na Europa (da etologia do Lorenz) e a minha ideia era atualizar essa teoria do Estádio do Espelho a partir dos estudos contemporâneos em etologia.
Então, fiz meu mestrado com essa problemática e depois o doutorado sobre linguagem na psicose da criança, que foi um estudo clínico por um lado, mas sumamente epistemológico por outro, e que depois foi publicado como trabalho, como livro. Eu sei que Brasil afora existe essa tensão entre Psicanálise e Psicologia Experimental, entre Psicanálise e Psicologia Social, mas isso é coisa de província. É contra a ciênciae contra o espírito das luzes. É contra tanto o que pensava Skinner ou Wundt, quanto o que pensava Freud. A questão da discussão de método nos concerne a todos e a Psicanálise faz parte desse debate desde o seu início.
C. M. R.: Que reflexões você faz acerca da sua própria formação como psicólogo? Você já fez várias, mas tem alguma específica que seja importante?
C. D.: Olhando de longe, com certo recuo e também com certa variedade, já que dei aula em muitos lugares antes de chegar à USP… Dei aula de Filosofia, por exemplo, em universidades da periferia para alunos das classes populares, universidades de massa com classes de 120 alunos; dei aula em pequenas clínicas, postos avançados na periferia de São Paulo, dei aula fora do Brasil também, em universidades inglesas, francesas, americanas, na Colômbia… E isso permite um recuo, no sentido de dizer como os cursos de Psicologia têm limitações que dizem respeito a sua formação histórica. Por exemplo, eu vim estudar Fenomenologia apenas quando fiz o curso de Filosofia; a minha formação em Psicologia do Trabalho é pífia, para não dizer “nula”; e há muitos autores importantes atrás dos quais tive de correr depois, pois não tive contato com eles na universidade. Em compensação, outros foram apresentados de forma seguida, massiva e, às vezes, até de forma insuportavelmente repetitiva. Nós precisamos começar a apreciar melhor essa variedade entre os diferentes cursos de Psicologia, pois acho que nada é pior que esses cursos genéricos em que você, de fato, não consegue encontrar alguma particularidade, que às vezes está definida pela região, às vezes pelo tipo de professor, pelo tipo de aluno, mas que precisa ser respeitada. Isso precisa ser mais bem pensado.
C. M. R.: Quando você fala que tem que ser mais bem pensado, você está pensando uma uniformização maior ou em reduzir isso?
C. D.: Não, em uma redução disso. Num país como o Brasil, a gente pega um estado como São Paulo, por exemplo, que tem tantos cursos de Psicologia nos quais se vê esse processo de “apostilamento”, que serve simplesmente para a universidade repor o professor e trocá-lo por qualquer outro. Isso é criminoso, porque impede que aquela faculdade desenvolva sua tradição, desenvolva seu sentido de pesquisa, sua aposta epistêmica, sua aposta em termos de comunidade. Isso é uma industrialização muito incompatível com o tipo de formação que a gente tem nos cursos de Psicologia. Acho que outras áreas não sofrem tanto com isso, mas nós sofremos.
C. M. R.: É uma teia de identificação da Psicologia com o Servidor…
C. D.: Exato. É uma Psicologia pasteurizada, que resulta numa impessoalização na relação professor-aluno, uma relação clientelista no que diz respeito às teorias psicológicas e que vai produzindo (e reproduzindo) preconceitos. Isso tudo facilita a formação de espírito dogmático e não crítico, bem como o aparecimento de uma série de sintomas decorrentes desse processo de, digamos, massificação e de afastamento da experiência (mais ainda fora do Brasil do que no Brasil, eu diria). Os cursos em Psicologia têm diminuído carga de estágio (isto é, de contato com pessoas) e aumentado a leitura de textos básicos, de livros-textos, ignorando a força da experiência da leitura de autores originais e das discussões mais verticais em termos de teorias psicológicas.
C. M. R.: Você acha que, nesse processo, entra também essa tendência de colocar disciplinas EAD?
C. D.: É, nós sofremos muito mais com isso do que outros cursos. As disciplinas de ensino a distância são legais para compensar certas dificuldades que são postas pelo tamanho do Brasil, devido à dimensão continental do nosso país. Mas o que vem acontecendo –redução de carga presencial e aumento de carga de ensino a distância– é outro golpe, porque, na nossa formação, a experiência em ato, pessoal e direta com quem nos forma, nos transforma decisivamente. E aí a experiência com o vídeo perde muito, pois ela acaba justamente uniformizando e produzindo experiências de dessingularização e de perda de experiência.
C. M. R.: Como você avalia a formação universitária em Psicologia na contemporaneidade? E aí eu acrescentaria uma segunda pergunta: como você avalia a experiência de formação em Psicanálise?
C. D.: Então, pergunta muito pertinente, porque, no Brasil, a Psicanálise é, certamente, uma das formas da Psicologia, se pensarmos nas disciplinas universitárias, mais organizadas. E isso não só porque ela está presente ao longo do tempo, mas porque ela faculta uma coisa decisiva e que é um patrimônio que a gente tem: essa passagem do universo universitário formal, de disciplinas, de curso, para um sistema mais amplo de formação. Nenhum psicanalista se forma tendo aula de ler Freud, Lacan no curso, mas a coisa começa ali e, de certa forma, ela faculta que o aluno saia da sua experiência imediata, da sua atitude de aluno e comece esse processo ético de se tornar um clínico. Minha avaliação é a de que, de certa forma, a Psicanálise é o melhor e o pior que pode sair dessa relação. O pior é que a Psicanálise, de certa maneira, começa a se psicologizar; há certos vícios que vêm da atitude, da formação em Psicologia, e que passam para a Psicanálise, mas, por outro lado, a Psicologia começa, também, a ser mais e mais influenciada por tudo aquilo que a Psicanálise traz de interessante, que é a implicação, o espírito de crítica e a dimensão de formação clínica que ultrapassa aquilo que está sendo dado no curso.
Se, durante o curso, você consegue produzir esse espírito de formação permanente, a nível de formação ética e, por que não dizer, política no aluno, você garante que ele não vai terminar a faculdade agora e querer aplicar o que aprendeu. Isso deveria ser impedido, não deveria acontecer, porque, de fato, o Brasil tem essa situação diferente em relação à maior parte dos cursos de Psicologia do mundo, os quais não são habilitantes. Ou seja: no exterior, você faz o curso, depois um training, uma especialização ou estágios programados, e só depois você consegue credenciar sua atividade profissional junto ao Estado, representado por uma associação que regula a prática. No Brasil, a gente decidiu que não: o curso habilita. Então, você pode terminar o curso e, simplesmente, passar a praticar alguma forma de Psicologia. E isso está muito equivocado. Se pensamos que é bom a pessoa fazer isso, ela vai parar de estudar, ela vai parar de fazer supervisão, fazer sua terapia ou sua análise pessoal… E isto não é bom.
Por outro lado, também não é bom que a gente faça esse trabalho de formação apenas como um caminho burocrático, porque o Estado diz que você tem que fazer e, então, você regula a psicoterapia. Essa massa burocrática e administrativa é muito incompatível com o que a gente espera da formação de um psicanalista. Ela tem que articular sua experiência de sofrimento, seus sintomas, seus limites e com o seu fazer de uma forma muito mais extensa do que os cinco anos do curso de Psicologia. É uma espécie de aposta ética, o que a gente tem. Ou conseguimos produzir essa lucidez ou facultamos que, de fato, a sociedade acolha muitos psicólogos malformados, com uma pequena consciência da complexidade do seu fazer.
C. M. R.: O que tem a ver com uma herança do tecnicismo também.
C. D.: Exatamente.
C. M. R.: A Psicologia foi influenciada por essa questão dos elementos tecnicistas…
C. D.: Exato, essa questão de você formar pessoas que são capazes de reproduzir rotinas anonimamente, segundo métodos impessoais. E, para a Psicanálise, isso não dá. Não é apenas difícil, mas é contraproducente, o que tem a ver com efeitos iatrogênicos que se terá depois nos tratamentos, com relações de reprodução de dominação social, isto é, certos processos de individualização que são, por si mesmos, patógenos. Apenas no contexto disso tudo é que conseguimos compreender o psicólogo como reprodutor de técnicas, sejam elas clínicas, sejam elas educacionais, ou mesmo presentes em empresas e organizações.
C. M. R.: E isso vai ao encontro do que Lacan falou, sobre como sair da ética para um exercício do poder.
C. D.: Exatamente. Aquele que não consegue sustentar a suas práxis, autenticamente, vai se lançar num exercício de poder. É exatamente isso. Como é que você mantém a autenticidade de uma prática ética? A partir da formação do desejo. E como se forma um desejo? Não é só no curso de Psicologia, mas também começa nele, quando você começa a se perceber e a reparar que tudo depende de como você coloca o seu desejo e de como forma o seu desejo de analisar. Ou seja: não o desejo de ser analista, fazer o bem, de ganhar dinheiro, de ficar na profissão, mas sim o desejo de analisar. E isso é complicado, porque não há muita referência, é uma coisa artificial, não segue a inércia. A inércia é a gente fazer relações de mestria, universitárias, relações histéricas, não relações a partir do desejo de ser analista, propriamente.
C. M. R.: Você falou da formação da Psicanálise no Brasil com relação à Psicologia. Pensando nesse nível mais amplo, como está hoje a formação em Psicanálise na América Latina? Como você avalia esse quadro maior?
C. D.: A Psicanálise é uma força emergente, um tipo de Psicologia, que foi contra todas as previsões… Nos anos oitenta e noventa, Freud estava sendo enterrado (e Lacan junto com ele…), graças ao lugar social que a Psicanálise ocupa nos países centrais, da Europa, mas não nos Estados Unidos. Na América Latina, posso falar mais propriamente sobre a situação da Argentina, da Colômbia, um pouco do Peru e Chile também, bem como sobre o Uruguai, aonde vou com relativa frequência. Nesses lugares, a Psicanálise é uma forma de saber, de prática universitária de excelência. Então, o que você tem nesses países é que, justamente porque os psicanalistas se engajam em uma formação permanente, eles acabam alcançando posições universitárias mais pujantes. Muitos estão fazendo doutorado, estão se tornando professores, e existem muitos grupos de estudo, muitos grupos de pesquisa, cada vez mais articulados entre si. A América Latina começa a conversar e a circular. Você e eu, por exemplo, temos esse contato com o pessoal da Colômbia, então fazemos livro juntos, e isso é um autodiagnóstico da situação.
Acho que há também uma ligação importante (e, a essa altura, mais nova) entre a Psicanálise e as teorias críticas. Uma aliança que vem se fazendo da Psicanálise com a teoria feminista, com a teoria queer, com pensamentos como o de Ernesto Laclau, Slavoj Žižek, Alain Badiou, Michel Foucault, com a esquizoanálise… Enfim, um grupo bastante extenso do que podemos chamar de teorias críticas ou, em alguns lugares, de estudos pós-coloniais. E todos eles debatem fortemente com a Psicanálise, às vezes com mais tensão, às vezes com mais compromisso. Mas o que temos aí é que, no fundo, a Psicanálise acabou, dentro das Psicologias, sendo a forma que mais se preocupa, exaustivamente, com a construção e a crítica de conceitos, análise e confrontação de teorias.
Na Europa, por exemplo, existe uma divisão muito curiosa entre aqueles que fazem Psicologia (e isso quer dizer sem o método experimental) e aqueles que fazem teoria. Como se, ao fazer pesquisa stricto sensu, eles se incumbissem de pensar e criticar conceitos, de avaliar, permanentemente, a condição discursiva do seu próprio fazer. Isso tem chegado a uma espécie de colapso, de modo que hoje há esse escândalo de 61% das pesquisas stricto sensu feitas nos Estados Unidos não serem replicáveis, pois são farsas científicas. Você tem, por outro lado, uma série de estudos que têm mostrado que a Psicanálise pode se justificar, sim: ela não é uma pseudociência, não é uma lavagem cerebral; ela tem suas limitações epistêmicas, mas ela faz parte do debate. Então, tem havido uma mudança no tom e isso tem vindo, com muita força, da América Latina, em países como México e Costa Rica, por exemplo. Nesse sentido, tem-se produzido um tipo de teorização que está sendo acolhidoe que está se conectando com diferentes teorias críticas nas Ciências Humanas e na Psicologia no resto do mundo.
C. M. R.: Muito legal isso que você coloca. Já que você falou sobre o produtivismo, me lembro de que, em uma de suas aulas, você deu o exemplo do falso moedeiro, que é aquele cara que compra pontos no Lattes, que faz coisas que não deveria. Como é que você pensa essa questão do impacto desse produtivismo acadêmico no ensino da Psicanálise e o que a gente pode fazer com isso?
C. D.: Ótima pergunta. Por um lado, os psicanalistas se viram em uma relação relativamente favorável no quadro produtivista, porque eles têm revistas, eles têm encontros, têm certa facilidade para publicar, em alguns casos eles têm dinheiro, têm um público que lê pesquisa e que não são especificamente os pesquisadores. Isso é completamente inusitado se a gente comparar com estudos muito específicos, no âmbito dos quais há meia dúzia, ou dez, vinte pesquisadores no mundo, um público seleto. Então, é legal e muito importante que se tenha isso, só que a Psicanálise tem essa outra característica. Agora, por outro lado, há uma resistência espontânea a isso, porque essa atitude, no fundo, está transformando os nossos professores em administradores, em gestores.
Quanto mais se vai entrando na carreira universitária, mais você vai sendo tirado da experiência da pesquisa, da aula, do contato com as questões de publicação, de conceito, de estudo, e você vai virando outra coisa, vai virando um membro de colegiado, ou então um redator de pareceres para revistas. Não existem as fake news? Existe também o fake teacher, a fake university, um mundo completamente artificial, falso, desgarrado de qualquer laço com a realidade e que gira em torno de si mesmo, produzindo, inclusive, um lixo industrial de trabalhos, mais ou menos amigados, para marcar pontos no seu currículo Lattes, apenas para que seu programa de pós-graduação vá para uma posição melhor, de modo que seus alunos tenham bolsas e você possa conseguir, enfim, mais apoio do Estado. Mas isso é um completo descaminho. Claro que algum controle é interessante, alguma avaliação é benéfica, mas o que tem acontecido é que nós transformamos os critérios de avaliação nos nossos objetivos. A gente não faz mais pesquisa, marca pontos no Lattes; a gente não cria mais ideias, mas serve a editoriais e publicação. Isso é uma inversão de meio e fins. Aliás, de práxis, pois a Psicanálise é uma práxis com certa montagem, em que os meios, os fins, os outros e nós mesmos, enfim, andemos na copresença.
Essa industrialização universitária é completamente contrária ao espírito psicanalítico, ainda que nós tenhamos essa posição, mais ou menos favorável, por contingência. Entretanto, devemos fazer a crítica dos falsos moedeiros, as moedas gastas do Mallarmé, aquelas de que não conseguimos mais ler a efígie, portanto não conseguimos mais trocar… Isso tudo precisa ser, imediatamente, revisto –e está sendo. Percebemos que estava havendo uma consciência um pouco mais clara de que o sistema não foi feito para servir a si mesmo, mas sim para ajudar as pessoas, a sociedade civil, a resolverem seus problemas reais, o que sofrem, etc.